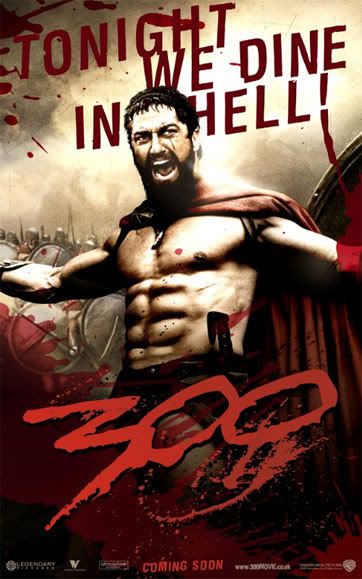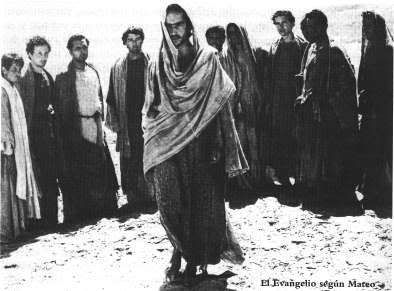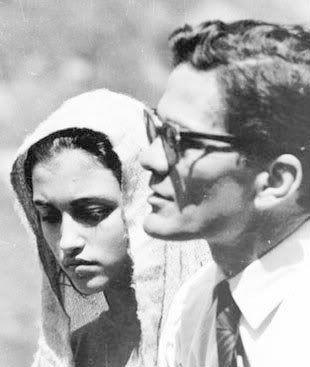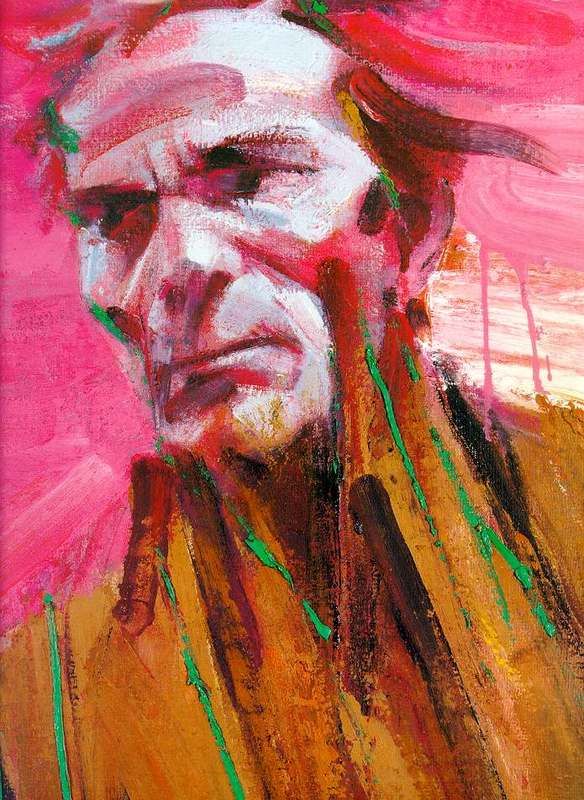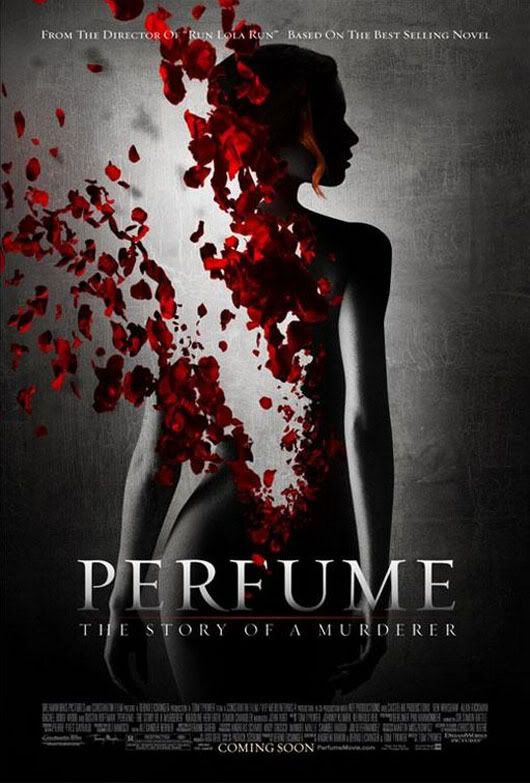Poucas leituras tenho que fundamentem curricularmente a minha sabedoria para falar de teoria do cinema. O que pois se segue é essencialmente uma meditação de um filocinéfilo (aquele que ama amar cinema), intrigado pelo ofício de amador de crítico de cinema. Reflectindo sobre a essência da crítica percebi que, antes, havia que me debruçar sobre a questão da própria recepção dos filmes, isto é, de que modo o espectador recebe a obra de arte no seu espírito, o que o afecta e move (no sentido anglosaxónico do verbo to move, insuficientemente traduzível para português por co-mover).
A obra cinematográfica, que aqui nos ocupa, e respectiva recepção constituem-se como uma experiência, a qual pode ser de diferentes ordens: e aqui se inicia a nossa peregrinação de filósofo, amante da sabedoria, e cinéfilo, amante do cinema. Há, a nosso ver, dois grandes tipos de experiência cinematográfica: uma épica, outra estética.
O termo épico vem do étimo grego epos, que significa «palavra», «discurso». Foi baseando-se nesta etimologia que Brecht designou o seu teatro de épico, e da mesma nos servimos para designar o tipo de experiência cinematográfica em que a obra age sobre o espectador em virtude do seu argumento. Isto é, o espectador fica impressionado, em primeira análise, pela obra cinematográfica graças ao poder da história que esta narra. A maioria dos filmes e, de um maneira abusivamente geral, os americanos ou american-like, actuam sobre o público desta forma. Podemos classificá-los genericamente de plot-driven, servido-se estes das mais variadas técnicas que a narratologia tem vindo a estudar e aperfeiçoar ao longo dos séculos para alcançar o seu efeito. Trata-se da aplicação ao cinema do pilar fundamental da literatura em prosa, que leva o leitor a recolher prazer e satisfação de um conto de Poe, de uma novela das Brontë ou de um romance de Nabokov. Falamos, no fundo, da arte mais antiga do mundo: a arte de contar uma estória.
Múltiplos são, como já afirmámos, porque constituem a maioria, os exemplos que aqui poderia evocar para ilustrar um filme que actue primordialmente ao nível épico. Escolhemos Memento (2000), de Christopher Nolan, por ter sido o filme que mais fundamentalmente revolucionou, a nosso ver, as técnicas narrativas depois de Pulp Fiction (1994), de Tarantino. Memento prende o espectador claramente pela sua estrutura narrativa, labiríntica e anacrónica. É a singularidade da história narrada e dos personagens que a povoam que confere ao filme o estatuto de culto.

Outros exemplos de filmes que, para nós que escrevemos, enquanto espectadores, actuaram essencialmente enquanto experiências no domínio do épico, foram, por exemplo, os vários filmes de Hitchcock, os quais clara e abundantemente funcionam a este nível, como, de resto, praticamente todos os policias e thrillers, géneros cinematográficos cuja força e impacto residem, sobretudo, no argumento. Por razões que se nos afiguram relativamente transparentes, filmes com poderosos twists finais agem sobre o espectador essencialmente pela sua vertente épica. Ilustram-no The Game/O Jogo (1997), de Fincher; The Sixth Sense/O Sexto Sentido (1999), de Shyamalan; ou Saw (2004), de James Wan. Porém, filmes de matéria e qualidade tão diversa como Dead Poets Society/O Clube dos Poetas Mortos (1989), de Weir, Schindler's List/A Lista de Schindler (1993), de Spielberg, The Lord Of The Rings/O Senhor dos Anéis (2001-3), de P. Jackson, Star Wars/A Guerra das Estrelas (1977-83), de Lucas ou o amontoado indistinguível de comédias românticas e teen movies «unleashed» por Hollywood anualmente; todos estes, dizíamos, funcionam à base do seu sentido épico e aí fundam o seu sucesso ou desgraça, consoante a qualidade de base do argumento e a arte e craft do realizador para o materializar.
Poucas obras prescindem da experiência épica - qual é o filme que, em última análise, não conta uma qualquer história?, apenas esta pode não ser a mais significativa nelas, como veremos.
Dentro da experiência épica, há uma outra experiência muito própria que merece ser designada à parte, que, estando dependente da história (e por isso a apresentamos com um subgénero da épica), garante, ainda assim, uma legítima independência, pelo que a apresentamos também, paralelamente, como um paragénero (do prefixo grego para-, significando «ao lado de»). Refiro-me à experiência ética. Designamos deste modo o tipo de experiência cinematográfica em que a obra age sobre o espectador em virtude das questões filosóficas/morais que levanta. O espectador é impressionado pelo filme porque este ou o incomoda, ao confrontá-lo com uma reflexão que ele não queria empreender ou se sente incapaz de satisfatoriamente concluir - e dái um sentimento de desamparo axiológico; ou, pelo contrário, renova a sua mundividência, que os alemães chamam de Weltanschauung, isto é, a forma como vê o mundo. No fundo, se na experiência épica pura o que move o espectador é a história (ou com o entretenimento - lato sensu, ou com a catarse aristotélica que proporciona, dependendo do ser, respectivamente, de acordo com as definições clássicas, uma comédia ou uma tragédia, conforme acabe bem ou mal), na experiência ética falamos de algo mais elevado, como se se processe a uma transferência do epicentro da experiência cinematográfica do coração para a razão. Procurando explicar de forma mais simples, o filme actua já não tanto a um nível emocional, de identificação com os personagens, mas sim a um nível intelectual, de questionamento das próprias atitudes do protagonista.
Ao contrário do que, a uma primeira leitura, possamos pensar, há uma colecção variada de filmes que, se se inscreveram no nosso espírito, foi precisamente por terem actuado maioritariamente sobre ele pela sua vertante ética. Um exemplo ilustrativo e recente é Munich/Munique (2005), de Spielberg, o melhor filme, a nosso ver, estreado em salas nacionais no ano passado. A obra recusa qualquer maniqueísmo, constituindo-se como uma vigorosa reflexão sobre o Bem e o Mal e os efeitos da violência no homem que a mesma violência desumaniza. Ao consciencializar-nos da nossa impotência face ao problema global que fotografa, perturba-nos. Ao libertar-nos das balizas morais que construímos, inquieta-nos, ajoelhando-nos a uma reflexão que faz obrigatória.

Outros filmes éticos que somos obrigados a referir incluem Breaking The Waves/Ondas de Paixão (1996) e Dogville (2003), ambos do «pequeno cavaleiro» Lars von Trier. Tratam-se de obras que agiram sobre nós, que aqui escrevemos, sobretudo pela profunda desorientação moral que deixaram em nós - que deixam ainda hoje em nós, em perguntas que permanecem uma busca, mais do que uma resposta. Lidam com o choque dos absolutos, o Bem e o Mal, um pelo maniqueísmo, outro pela anulação surpreendente desse maniqueísmo. Como exemplo dos filmes éticos que revolucionaram a nossa visão do mundo - a mencionada Weltanschauung, referiria Fight Club/Clube de Combate (1999), de Fincher, uma satírica análise da sociedade finissecular.
Ao contrário da experiência épica, um filme pode susbsistir inteiramente sem uma experiência ética, a qual, no entanto, nitidamente o valoriza. Outros há que, prevalecendo sobre a experiência ética outras experiências que abaixo estudaremos, encontram nela uma mais-valia. Esse género de filmes são o material sobre o qual trabalham os filósofos, dando origem à escrita de obras curiosas como O Que Diria Sócrates A Woody Allen, de J. Antonio Rivera (Tenacitas, Coimbra, 2006). Dois paradigmas desta espécie de filmes que, possuindo uma forte componente ética, agem, contudo, primariamente, sobre o espectador de outro ponto de vista cinematográfico, são Clockwork Orange/Laranja Mecânica (1971), de Kubrick, e The Matrix/Matrix (1999), dos irmãos Wachowski.
O termo estético vem do grego, significando «perceptível pelos sentidos, sensível». A etimologia do vocábulo remete-nos pois para aquilo que é material. A experiência estética é assim o tipo de experiência cinematográfica em que a obra age sobre o espectador em virtude do sua beleza plástica. De facto, todo o cinema, a priori, é estético, mais que não seja porque, enquanto arte, é por definição, uma arte plástica, visual. Esquivamo-nos aqui a debruçarmo-nos sobre a essência do Belo, problemática filha de uma filosofia de cem anos e com Platão por pai. Neste ponto, cientes da nossa ignorância - a qual, essa, não se restringe só a este aspecto, preferimos não enveredar, enquanto não nos cultivarmos mais nessas matérias e discussões. Porém, ainda que não saibamos deslindar racionalmente a construção do Belo, sabemos, emocionalmente, constatá-lo. E é sobre essa constatação e a certeza de estarmos certos nela, por ser algo de tão íntimo, que avançamos. O Belo, quando ocorre no ecrã, é um espanto que nos percorre, um deslumbramento, um assombro: e o Belo mais profundo arranca as lágrimas, não por ser dramático (isso pertence ao âmbito do épico), mas por se insuportavelmente Belo, como um Zeus que se mostra a uma Sémele que na realidade não o pode ver em toda a sua magnificência sem morrer. Esteja claro que beleza não se refere aqui à beleza da história (isso, repetimos e sublinhamos, é da esfera do épico), mas há beleza da imagem, a algo material, sensível - que é, como vimos, o significado do termo estético.
O exemplo mais conseguido e inultrapassado e provavelmente inultrapassável de uma experiência estética cinematográfica é a opus de Kubrick, 2001: A Space Odyssey/2001: Odisseia no Espaço (1968). O filme é uma valsa - para remeter para a metáfora da utilização do Danúbio Azul de Strauss - de sequências que funcionam per se, isto é: o impacto de uma cena, podendo ser ampliado pelas que a precederam ou se seguirão, é, no entanto, independente delas. Tal singularidade resulta do facto de cada frame se constituir como um verdadeiro quadro de beleza. Tome-se como exemplo a sequência final: a imagem abaixo contém o poder da fotografia, a saber, o de, sem diálogos, sem prefácios ou epilógos, causar naquele que a observa naquele instante um sentimento de espanto infantil, de deslumbramento perante uma magia. Se mostrássemos a cena final completa, ao som de Richard Strauss, Assim Falava Zaratustra, a alguém que desconhecesse o filme, tal facto em nada afectaria o seu encantamento, spellbound, perante a sequência da star-child. Isto mesmo o parece afirmar Spielberg, no documentário que acompanha o DVD de Eyes Wide Shut, em homenagem a Kubrick, pouco depois da sua morte. Spielberg, entrevistado, critica aqueles que consideram Kubrick excessivamente frio e racional e relata como, para comprovar a uns amigos a mentira desses adjectivos, os convidou a verem a cena final de Paths Of Glory/Horizontes de Glória (1957), filme que desconheciam. O realizador descreve então como todos se comoveram. Se isto aqui narramos é apenas para que, de forma mais ilustrada, se entenda o carácter da experiência estética.

A experiência estética opõe-se directamente à experiência épica. Primeiro, porque a experiência cinematográfica ou é maioritariamente épica ou maioritariamente estética. Segundo, porque, tendencialmente, quanto mais estético, menos épico. Assim, 2001: Odisseia no Espaço tem um número reduzido de diálogos para a sua longa duração. Poder-se-á argumentar, e correctamente, que a narratologia não se resume a diálogos: isso mesmo o afirmava Kubrick (vide a entrevista, aquando do The Shining, com Michel Ciment, em que o realizador propõe uma reconstrução das técnicas narrativas com base na narratologia dos filmes mudos). Porém, pouco de épico terá a terceira e última parte de 2001 e todos os acontecimentos, de um modo geral, demoram-se mais do que o necessário numa narrativa épica escorreita, porquanto valorizam a parte estética: daqui resulta a acusação frequente feita a Kubrick de que os seus filmes pecam pelo seu slow pace. Os que assim falam obviamente confundem experiência épica com estética, mais, revelam-se insensíveis a esta última. Note-se, porém, que dizer que a experiência estética se opõe à épica não significa que ambas se excluam - leitura errada das minhas afirmações. Pelo contrário, elas suportam-se mutuamente e o bom filme, de uma maneira geral, é aquele que funda a sua qualidade e força nas duas, ainda que, irremediavelmente, uma tenda sempre para se sobrepor à outra, dependendo do realizador e do espectador.
Os filmes de Kubrick são excelentes ilustrações de experiências estéticas. À parte do já referido 2001, é-nos obrigatório referir Clockwork Orange/Laranja Mecânica (1971), Barry Lyndon (1975), The Shining (1980) ou Eyes Wide Shut/De Olhos Bem Fechados (1999). Porém, em nome de uma maior diversidade, somos levados a mencionar THX 1138 (1971), de Lucas, Elephant (2003), de Gus van Sant, The Village/A Vila (2004), de Shyamalan ou o recentíssimo Marie Antoinette(2006), de Sofia Coppola. Todos são obras de arte - aqui não no sentido de serem geniais, que também o são, mas no sentido em que são isso: arte.
Paralelamente à experiência estética encontramos a experiência técnica, numa relação entre as duas semelhante àquela que une e separa a experiência ética da épica. Por experiência técnica designamos o tipo de experiência cinematográfica em que a obra age sobre o espectador em virtude da sua técnica ou craft - desculpe-se a redundância. São filmes que afectam o espectador pela sua impecável qualidade, o meticulismo dos pormenores, a coordenação dos departamentos, a mise-en-scène e toda a panóplia técnica que o futuro realizador aprende na escola de cinema. Aí, não aprende o talento de um Kaufman (épica) ou a beleza de um Kubrick (estética); porém, lecciona-se afincadamente a tal técnica: é esta que, neste tipo de experiência cinematográfica homónima, move o movie-goer. Ainda que se possa estudar, requere mestria e presença para se atingir.
Como protótipo pessoal deste género de experiência, escolhemos Citizen Kane/O Mundo A Seus Pés (1941), de Orson Welles. Do filme, escreve Manuel Cintra Ferreira, crítico do Público, em Quem é Quem no Cinema e no Vídeo (Difusão Cultural, 1991):
"Costuma dizer-se que há, até hoje, três saltos qualitativos na história do cinema. Momentos em que a acumulação de experiências passadas se materializa num filme ou num autor que vem transformar radicalmente a linguagem e o conceito de cinema. O primeiro foi em 1914 com Nascimento de uma Nação de Griffith. O segundo em 1941 com O Mundo A Seus Pés de Orson Welles, e o terceiro em 1959 com O Acossado de Godard."
Visto o filme, facilmente se compreende a afirmação. É, de facto, essencialmente pela parte técnica que Welles consquista o espectador: permanentemente, criança, deixava soltar uma exclamação de espanto perante a forma como, desprevenido, o realizador me surpreendia, com um ângulo de câmara inopinado, um equilíbrio de volumes louvável, uma fotografia ainda hoje inovadora. A cena-resumo do primeiro casamento ou a sequência de consulta do arquivo da biblioteca figuram entre as mais veneráveis da metragem, incitando ao desejo de tirar o chapéu que não se utiliza.

Tipicamente, os filmes dos primórdios do cinema tendem a entusiasmar-nos enquanto, precisamente, experiências técnicas, pela consciência que temos, em visionando a obra, que estamos perante algo revolucionário. Só este tipo de experiência justifica uma certa emoção perante La Sortie des Usines Lumière/A Saída dos Operários da Fábrica Lumière (1895), dos irmãos Lumière. Porém, será incorrecto reduzir a experiência técnica a estes primeiros filmes: outro exemplo que se poderia avançar é The Matrix/Matrix (1999), que, se é vencedor na sua fusão de acção (épica) com filosofia (ética), é, sobretudo a quem o contempla pela primeira vez, uma incredulidade visual, pelo que representa em termos de evolução dos efeitos especiais: a cena inicial com Trinity é um murro no estômago e nos olhos, cuspindo nos limites do possível.
Afirmou-se anteriormente que épica e estética, no compromisso entre si, desequilibram-se, isto é, uma sobrepõe-se sempre a outra. Há, todavia, uma excepção a esta verdade, caso peculiar. Refiro-me a The Godfather/O Padrinho (1972), de Francis Ford Coppola. Por isso chamamos este filme de perfeito, o que não significa que seja necessariamente o melhor ou o favorito - ainda que, como se constata de uma leitura do nosso top 10, ele seja um dos melhores e um dos favoritos. É perfeito porque alcança o equilíbrio nessa balança problemática que de um lado tem a épica e do outro a estética. Determinar qual é mais revelante para o sucesso e mérito do filme parece-nos uma discussão bizantina, visto que, coisa única, neste filme os dois lados são gémeos.

Muitos são os filmes em que não destrinçamos claramente qual dos dois pratos mais pesa e qualquer tentativa de classificação da recepção cinematográfica desse filme nos parece traidora. A existência de filmes assim - por exemplo, Apocalypse Now (1979), também de Coppola - não invalida que uma das experiências cinematográficas se tenha, ipso facto, sobreposto à outra. Simplesmente, não conseguimos, pela imensidão da experiência, determinar qual delas. De facto, uma situação destas apenas se regista com grandes obras do cinema, as quais tendem para o equilíbrio, como PH7, encarnado pelo The Godfather/O Padrinho. Isto não significa que um filme não possa ser uma obra-prima se não se situar neste território de ambiguidade: filmes de carácter estético (e, alguns, de carácter ético) tendem a afirmar-se com bastante convicção, sem que isso de forma alguma lhes retire mérito: muitas vezes, pelo contrário, acrescentando-lhes. Tal é bem mais difícil de suceder com filmes marcadamente épicos (por muito interessante e bem conseguida que seja uma história, dificilmente ganhará pódio na história do cinema sem um trabalho afinado de estética por detrás) ou técnicos (por muito requintada a técnica, sem beleza ou história será oca - e murcha).
Urge referir a singularidade de um outro filme, Hiroshima Mon Amour/Hiroshima Meu Amor (1959), de Alain Resnais. Tendo visto o filme recentemente - fez ontem uma semana, apercebi-me que estamos perante uma experiência estética da épica, isto é, o poder e majestade do filme resultam, maioritariamente, do argumento de Marguerite Duras, escritora, que o aspergiu de uma sensibilidade lírica única e, para nós, nova no cinema. O seu visionamento foi, indubitavelmente, uma experiência estética, mas esta decorria directamente não tanto (ainda que também), como seria de esperar, da plasticidade (o carácter visual) do filme, mas sim das palavras, da épica. Quiçá, no futuro, com a revisão do passado, encontraremos mais exemplos de opus assim.

Perceba-se: as categorias de recepção da experiência cinematográfica aqui enumeradas não são, nem pretendem ser, monolíticas. Primeiro, um filme ser rotulado ou como estético ou como épico não exclui a outra dimensão: o que afirmamos é que há uma destas duas esferas que actua mais sobre nós, revelando-se preponderante no nosso espírito, gerando o fascínio ou a repulsa. Quanto mais vezes um filme é visto, tanto melhor o espectador se apercebe das suas várias camadas de experiências: um filme jamais se resume a uma camada e seria uma leitura propositadamente errada do nosso ensaio deduzir isso. Aliás, quantas mais experiências um filme comporta, tanto mais rico ele é. Para que uma experiência seja maioritária basta para isso reunir, na estranha matemática do espírito, 50%+1 da nossa atenção. Um filme como Dogville, que anteriormente pusemos como ilustração da experiência ética, é igualmente revolucionário em termos técnicos (com a sua mise-en-place brechtiana) e possui, como outra coisa, de resto, não seria de esperar da pena de von Trier, um lado épico arrebatador. Barry Lyndon, um dos mais acabados exemplos de uma experiência estética, é simultaneamente um perfeito desenvolvimento do típico tema da ascenção e queda de um homem, brilhando - e por isso co-movendo - também do ponto de vista épico. Com estes exemplos esperamos ter dissolvido as dúvidas sobre o carácter não monolítico das categorias de recepção cinematográfica apresentadas.
Esclareça-se que uma dada experiência não é de forma alguma inerente a um filme, mas inerente ao visionamente desse filme por parte de um dado espectador. Nenhum filme, per se, é épico ou estético. Assim, quando digo que um filme é épico estou a dizer que é épico na minha experiência pessoal e intransmissível de recepção dele. Sobre por que é que as pessoas vivem diferentes experiências ao ver o mesmo filme, isso, é questão que não nos ocupa agora neste ensaio, mas é, logicamente, o próximo passo a dar para uma análise dos fundamentos (ou falta deles) do ofício da crítica cinematográfica.